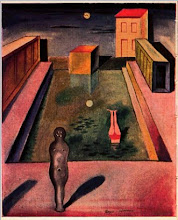Inventário de um rio # 1
Às margens desse rio asfixiado
habitado pela merda expelida das casas
e o ácido excedente das indústrias
homens pararam por um instante –
testemunharam seus reflexos no espelho;
outros
velaram toda uma noite atrás de um peixe.
habitado pela merda expelida das casas
e o ácido excedente das indústrias
homens pararam por um instante –
testemunharam seus reflexos no espelho;
outros
velaram toda uma noite atrás de um peixe.
Nessas águas espessas
violentadas pelo óleo das auto-estradas
oprimidas pelo caldo dos bueiros
mulheres lavaram a roupa e as mágoas;
outras
se aliaram ao corpo do rio
para ajudar as flores a resistirem ao inverno
e os tomates a se rebelarem contra a seca.
violentadas pelo óleo das auto-estradas
oprimidas pelo caldo dos bueiros
mulheres lavaram a roupa e as mágoas;
outras
se aliaram ao corpo do rio
para ajudar as flores a resistirem ao inverno
e os tomates a se rebelarem contra a seca.
Às margens desse rio viciado
picado pela agulha dos hospitais
assaltado pela indigestão dos restaurantes
meninos caçaram animais que por ali se aventuravam,
ou simplesmente ficaram ao vento –
que não tinha o cheiro
senão do campo que percorria.
picado pela agulha dos hospitais
assaltado pela indigestão dos restaurantes
meninos caçaram animais que por ali se aventuravam,
ou simplesmente ficaram ao vento –
que não tinha o cheiro
senão do campo que percorria.
Inventário de um rio # 2
1
Aquele havia sido o meu Eufrates.
Ainda que inexpressivo
– sequer constava no mapa –
não teria havido nada sem ele
Aquele havia sido o meu Eufrates.
Ainda que inexpressivo
– sequer constava no mapa –
não teria havido nada sem ele
(a água era tão pouca
e de tão má qualidade
– pombos sedentos agonizavam
às suas margens –
que nada sobrevivia em seu bojo
[além de vermes aquáticos
e caramujos da esquistossomose])
e de tão má qualidade
– pombos sedentos agonizavam
às suas margens –
que nada sobrevivia em seu bojo
[além de vermes aquáticos
e caramujos da esquistossomose])
Aquele havia sido o meu Aqueronte.
Quando corria –
quase sempre estava engasgado
com o cadáver de um cão –
conduzia a inframundos
sobre o domínio de Hades
Quando corria –
quase sempre estava engasgado
com o cadáver de um cão –
conduzia a inframundos
sobre o domínio de Hades
(pouca era a sua água
e de tão má qualidade –
espessa como a baba de um enforcado –
que ela se mostrava incapaz de refletir o céu
[senão simulá-lo
com um azul de olho vazado])
e de tão má qualidade –
espessa como a baba de um enforcado –
que ela se mostrava incapaz de refletir o céu
[senão simulá-lo
com um azul de olho vazado])
2
Aquele que havia sido o meu rio
se arrasta por galerias de concreto
– como um fantasma do Lete –
roendo pacientemente os pilares da cidade
Aquele que havia sido o meu rio
se arrasta por galerias de concreto
– como um fantasma do Lete –
roendo pacientemente os pilares da cidade