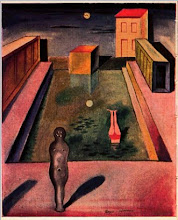skip to main |
skip to sidebar
“Quando a vista ficar confundida, e a lua se eclipsar,
e o sol e a lua se unirem, nesse dia o homem gritará:
para onde é que se pode fugir? Oh, não haverá refúgio!”
Surata 75
Nos tempos antigos
de minha infância
alimentava, à noite, uma náusea sem nome. Achava em
silêncio – não havia palavras suficientes guardadas em
mim para desfraldar esse
sentimento – que algo
de inevitável estava próximo
de se consolidar. Algo ruim.
Não sabia dizer se o escuro do
quarto iria se espalhar sobre o mundo e derramar seu pavor rastejante sobre as coisas
coloridas da vida.
Nem se
seria escuro esse
caos.
Não sabia dizer se esse fim
estava sendo urgido numa sala celeste, onde os deuses discutiam com seus
investidores um modo viável de esvaziar o conteúdo
do cálice e por fim
à criação. Tampouco sabia se os deuses teriam algo
a ver com isso.
Não sabia dizer se esse desconforto – que me
parecia em avançado
estágio de consolidação
– viajava sentado na cauda de algum
meteoro lançado a milhões de anos,
impelido a cruzar o universo para nos abalroar como
se fôssemos um navio
de H. Mellvile.
Não sabia,
sentado em meu
medo infantil, o que seria essa certeza
perversa, tão
nítida no apelo das árvores.
O que seria esse
conhecimento explícito em mim como um amor
inflamado? O que seria essa dor que vinha
escondido no prato de comida e tirava o apetite?
Que vinha entrelaçado
na fala dos desenhos
animados e enfartava o riso? Onde brotava, num peito
pequeno de menino,
uma água tão
escura? Quando
ela rompera o tecido e começara a escorrer pelo corpo?
Fôra antes de me ver refletido mais vezes
em fundos de privadas
do que em
espelhos?
Antes de Rimbaud
me seduzir para a venda
como escravo sexual
aos asseclas do rei
de Choa?
Fôra antes de cantar a Internacional, as quartas,
ao lado de pederastas,
alcoólatras, poetas
e açougueiros
que ainda acreditavam em
Deus aos domingos?
Quando
compreendi que não
era o que
se escondia no guarda-roupa que me causava aquele mal, mas
a certeza de que
o mundo – não apenas
eu e as minhas
fraquezas – acabaria?
Então aguardei a sua consolidação em
noites de trovões,
em dias de discussão
adulta – que traçavam o rumo de suas vidas conjugais
e a permanência do eu
no limiar das coisas
alegres.
Então o
aguardei impregnando-o de imagens retiradas dos livros
de gravuras. Na fala
da gente humilde,
sempre a rever na cozinha
seus temores e suas
certezas catastróficas, complementei minha visão tingindo-a de sangue
humano – substituindo árvores tombadas
por homens
tombados.
Não via no rosto
das pessoas esse medo
que me
tirava o sono. Não via
em seus
gestos de prazer uma tentativa
reconfortante de aproveitamento
imediato – o fim
estava próximo, algo me
dizia em forma
de pânico pediátrico
– e haveria mortes,
talvez fogo nas ruas e no cabelo
das mulheres
– e haveria dor no coração
e nos braços
ensangüentados das enfermeiras.
Não via em
seus gestos
de ódio uma revolta
consciente, um ato de reprovação:
o fim do mundo talvez já
caminhasse nas ruas
escolhendo a dedo uma forma de melhor efetuar a
sua desgraça
– e haveria confusão:
talvez mães chorando crianças despedaçadas,
e haveria desespero nos olhos do menino
sem mãe
para consolá-lo.
Não via no choro
das mulheres – tão evidentes
– nem na lágrima seca que rolava quando as crianças
não estavam um choro
ou uma lágrima
a respeito da verdade que a todo instante me redimia a um
único pensamento.
Talvez o fim já
houvesse sido deflagrado: lento e preciso, se espalhando pelo ar, como a sombra
de uma nuvem envenenada, apodrecendo sobre as cidades.
Nada se avistava no
tempo, ou nas ruas. Aguardar, essa era a palavra de ordem.
“E para cada dia
bastará apenas o seu mal”
Mateus
6:25-34